O Cavaquinho
O cavaquinho é um cordofone popular de pequenas dimensões, do tipo da viola de tampos chatos e da família das guitarras europeias. Possuindo uma caixa de duplo bojo e pequeno enfranque, as suas quatro cordas de tripa ou metálicas (em aço) são tradicionalmente presas a cravelhas de madeira dorsais e ao cavalete colado a meio do bojo inferior do tampo, por um sistema que também se usa na viola. Além deste nome encontramos ainda, para o mesmo instrumento ou outros com ele relacionados, as designações de machimbo, machim, machete, manchete ou marchete, braguinha ou braguinho, cavaco.
Dentro da categoria geral com aquelas características, existem actualmente em Portugal continental dois tipos de cavaquinhos, que correspondem a outras tantas áreas: o tipo minhoto e o tipo de Lisboa.
Minho
É sem dúvida fundamentalmente no Minho que o cavaquinho aparece hoje como uma espécie típicamente popular, ligada às formas essenciais da música característica desta província.
O cavaquinho é um dos instrumentos favoritos e mais populares das rusgas minhotas partilhando com elas, e com o género musical que lhe é próprio, um carácter lúdico e festivo do qual se excluem outros usos cerimoniais ou austeros. Usando-se sózinho, com função harmónica e para acompanhamento do canto, o cavaquinho aparece frequentemente acompanhado pela viola ou outros instrumentos - nomeadamente o violão, a guitarra, a rabeca, o bandolim e a harmónica ou acordeão, para além de alguns percutivos como o tambor, ferrinhos e reco-recos, próprios daqueles conjuntos festivos. Em terras de Basto e Amarante é estabelecida uma distinção nítida entre o instrumental do tipo da rusga para as canas-verdes e malhões que compreende o cavaquinho, violão, bombo e ferrinhos, harmónica e acordeão; e o do tipo da chula ou vareira que compreende a rabeca (parcialmente substituída pela harmónica), violas (uma alta em tom de guitarra, e outra baixa), violões assurdinados no sexto ou sétimo ponto, bombos, ferrinhos, mas não cavaquinhos. Deste modo, na região, o cavaquinho alterna com a rabeca chuleira as funções de instrumento agudo.
Características
O cavaquinho minhoto tem a escala rasa com o tampo, tal como a viola, e doze trastos; a boca da caixa é usualmente de «raia», por vezes com recortes para baixo, embora surjam ainda outros de boca redonda. As dimensões do instrumento diferem pouco de caso para caso, não excedendo os 52 cm de comprimento total num exemplar comum. A altura da caixa é o elemento menos constante - com 5 cm na generalidade dos casos -, embora apareçam com frequência cavaquinhos muito baixos, que têm um som mais gritante (os machinhos de terras do Basto e Minho). As madeiras variam conforme a qualidade do instrumento. Os melhores tampos são em pinho de Flandres - embora mais correntemente também se fabriquem em tília ou choupo -, as ilhargas e o fundo são em tília, nogueira ou cerejeira. Surgem ainda alguns exemplares com a metade superior do tampo, as ilhargas e o fundo fabricados em pau-preto. Braço, cabeça ou cravelhal são de amieiro, bastante recortados segundo moldes variados e característicos. Os rebordos e boca do cavaquinho são sempre decorados com frisos e os cavaletes são quase sempre em pau-preto, tal como o indica o Regimento para o ofício de violeiro para as violas (Guimarães, 1719).
Os cavaquinhos minhotos são construídos por uma indústria outrora centralizada sobretudo nas áreas de Guimarães e Braga, actualmente extensiva à cidade do Porto e arredores de Braga. Quanto a Guimarães, já no século XVII ali se construíam estes instrumentos; mencionando-se os machinhos de quatro e de cinco cordas, por entre as espécies então fabricadas, no Regimento atrás citado.
Técnicas e Afinações
O cavaquinho geralmente toca-se rasgado com os quatro dedos menores da mão direita, ou apenas com o polegar e o indicador como instrumento harmónico. No entanto, um bom instrumentista executa a parte cantante destacada do rasgado com os dedos menores da mão esquerda sobre as cordas agudas, ao mesmo tempo que as cordas graves fazem o acompanhamento em acordes. Trata-se de um instrumento com um grande número de afinações que, tal como no caso da viola, variam conforme as terras, as formas tradicionais e até os tocadores. Porém, geralmente e para tocar em conjunto, o cavaquinho afina pela viola com a corda mais aguda colocada na máxima altura aguda possível. A sua afinação natural parece ser ré-sol-si-ré (do grave para o agudo), mas usa-se também sol-sol-si-ré (ou lá-lá-dó #-mi, do grave para o agudo). Certos tocadores de Braga usam ainda outras afinações além destas, próprias de certas formas em que a corda mais aguda (ré) é ora a primeira, ora a terceira: a afinação para o varejamento (com a primeira mais aguda) que corresponde a sol-sol-si-ré, atrás indicada; a afinação para malhão e vira na «moda velha» mais antiga (sol-ré-mi-lá, também com a primeira mais aguda). Em Barcelos, é preferida a de sol-dó-mi-lá (afinação da «Maia») existindo ainda outras afinações de malhão e vira, para além de outras com a terceira mais aguda, etc. Actualmente o cavaquinho é usado - tal como outros instrumentos típicos das rusgas - também para o fado, seguindo aí uma afinação correspondente com a primeira mais aguda.
(Curiosamente, uma das afinações mais usadas - não citada por Ernesto Veiga de Oliveira - e porventura mais versátil harmonicamente é: (de cima para baixo) - RE-LA-SI-MI.)
Origem
A origem do cavaquinho é duvidosa. Gonçalo Sampaio, que explica a sobrevivência de modos arcaicos e helénicos na música minhota à luz de possíveis influências gregas (ou ligures) exercidas sobre os primitivos calaicos daquela Província, acentua a relação existente entre o cavaquinho e os tetracórdios e sistemas helénicos, sendo de opinião que ele, a par da viola, terá eventualmente vindo para Braga por intermédio dos biscaínhos. De facto, existe em Espanha um instrumento semelhante ao cavaquinho, da família das guitarras - o requinto - de quatro cordas, braço raso com o tampo e dez trastos, que afina do grave para o agudo (ré-lá-dó sustenido-mi). Jorge Dias parece também considerá-lo vindo de Espanha, onde também se encontra em termos idênticos a guitarra, guitarrón ou guitarrico, como o chitarrino italiano. E acrescenta ainda: « sem poder precisar a data da sua introdução, temos que reconhecer que o cavaquinho encontrou no Minho um acolhimento invulgar, como consequência da predisposição do temperamento musical do povo pelas canções vivas e alegres e pelas danças movimentadas ... O cavaquinho, como instrumento de ritmo e harmonia, com o seu tom vibrante e saltitante é, como poucos, próprio para acompanhar viras, chulas, malhões, canas-verdes, verdegares, prins».
Cavaquinho de Lisboa
O cavaquinho de Lisboa, é semelhante ao minhoto pelo seu aspecto geral, dimensões e tipo de encordoamento. Difere essencialmente deste pela escala que é em ressalto, elevada em relação ao tampo, e pelo seu número de dezassete trastos. O cavalete difere do dos cavaquinhos minhotos, tratando-se de uma espessa régua linear com um rasgo horizontal escavado a meio onde a corda prende por um nó corredio.
O cavaquinho parece ser aqui um instrumento de tuna com carácter urbano e sobretudo burguês que, em meados do século XIX, os mestres de dança da cidade terão certamente utilizado nas suas lições, sendo ocasionalmente tocado por intérpretes femininos. Toca-se pontiado com plectro, tal como os instrumentos desse género do tipo dos bandolins, produzindo-se tremolo sobre cada corda. Enfim, em certos casos aliás pouco frequentes, um instrumento parecido com o cavaquinho pelo seu formato geral e dimensões - mas com um número superior de cordas e um braço mais largo - leva também o nome de cavaquinho, embora não partilhe com ele a mesma estirpe e natureza.
Algarve
No Algarve conhece-se igualmente o cavaquinho como instrumento de tuna - «a solo ou com bandolins, violas (violões), guitarras e outros » - de uso similar ao de Lisboa: urbano, popular ou burguês, para estudantinas, serenatas, etc.
Ilha de Madeira
Na ilha da Madeira existe também o correspondente destes cordofones com os nomes de braguinha, braga, machete, machete de braga ou cavaquinho. O braguinha tem as mesmas dimensões e número de cordas dos cavaquinhos continentais, possuindo a forma e as características do cavaquinho de Lisboa. O encordoamento parece ser de tripa, mas o uso popular substitui geralmente a primeira corda por fio de aço cru e a sua afinação é ré-sol-si-ré, do grave para o agudo.
Relativamente ao seu contexto social, o braguinha madeirense desempenha uma função dupla. Pode apresentar-se como instrumento de nítido carácter popular, próprio do «vilão», rítmico e harmónico, para acompanhamento, tocando-se rasgado. Ou surgir como instrumento urbano, citadino e burguês, de tuna, melódico e apresentando-se enquanto único elemento cantante madeirense. Toca-se pontiado com palheta ou , preferencialmente, com a unha do polegar direito em jeito de plectro, alternando com rufos ou acordes dados com os dedos anelar, médio e indicador. Morfológicamente idênticos, o instrumento rural é extremamente rústico e pobre, enquanto que o burguês e citadino é geralmente de uma feitura esmerada, em madeiras de luxo e com embutidos.
Açores
O Dicionário Musical de Ernesto Vieira e o Grove’s Dictionary of Music mencionam a presença do cavaquinho nos Açores (Prainha do Norte, Ilha do Pico) existindo ainda notícia da sua presença no Faial, nomeadamente na ilha dos Flamengos, perto da Horta.
Brasil
O cavaquinho existe também no Brasil, figurando em todos os conjuntos regionais de choros, emboladas, bailes pastoris, sambas, ranchos, chulas, bumbas-meu-boi, cheganças de marujos, cateretês, etc., ao lado da viola, violão, bandolim, clarinete, pandeiro, rabecas, guitarras, flautas, oficleides, reques-reques, puita, canzá e outros, com carácter popular mas urbano.
Este cavaquinho difere do minhoto tendo - como os de Lisboa e da Madeira - o braço em ressalto sobre o tampo, 17 trastos e boca redonda possuindo menores dimensões totais. A sua afinação mais usual é com o acorde de sol maior invertido, similar à da Madeira ou de certos casos minhotos, surgindo ainda afinações diversas.
Os autores brasileiros em geral - Oneyda Alvarenga, Mário de Andrade, Renato Almeida, etc. - mencionam a origem portuguesa do cavaquinho brasileiro e Câmara Cascudo refere mesmo particularmente a importância desempenhada pela ilha do Madeira.
De um modo geral, ao instrumento minhoto tradicional e francamente popular - e origináriamente coimbrão - que se toca de rasgado, corresponde o velho tipo de braço raso com doze trastos. Aos instrumentos de carácter citadino e burguês - de Lisboa, Algarve e Madeira - que se tocam de pontiado, corresponde o tipo de braço em ressalto e dezassete trastos, que parece ter sofrido influências do violão, guitarra ou bandolim. Embora de carácter popular, o cavaquinho brasileiro pertence a este último tipo, sendo sobretudo usado pelos estratos populares urbanos.
Ilhas Hawai
Finalmente, nas ilhas Hawai existe um instrumento igual ao cavaquinho - o «ukulele» - que parece ter sido para ali levado pelos portugueses.
Tal como o nosso cavaquinho, o «ukulele» havaiano tem quatro cordas e a mesma forma geral. Certos violeiros fazem-no com o braço em ressalto e dezassete trastos, do mesmo modo que os cavaquinhos de Lisboa, da Madeira e do Brasil; mas existem «ukuleles» de fabrico inglês do tipo do cavaquinho minhoto, de braço raso com tampo e apenas doze trastos.
A sua afinação natural é, do grave para o agudo, sol-dó-mi-lá (ou lá-ré-fá sustenido-si, ou ainda ré-sol-si-mi, como indicam certos manuais ingleses). Carlos Santos e Eduardo Pereira referem-se à divulgação do braguinha por todo o mundo graças ao turismo e ao cinema e, sobretudo, à exportação e emigração dos colonos ilhéus para as Américas do Norte e Sul, ilhas Sandwich, etc.
De facto, o cavaquinho foi introduzido no Hawai pelo madeirense João Fernandes que viaja para Honolulu no barco à vela «Ravenscrag» com um contingente de emigrantes destinado às plantações de açúcar, seguindo trajecto pela rota do cabo Horn. Entre eles encontram-se cinco dos nomes que ficaram ligados à história da introdução do cavaquinho em Hawai: dois tocadores (João Fernandes e José Luis Correia) e três construtores (Manuel Nunes, Augusto Dias e José do Espírito Santo).

O «Ravenscrag» chega a Honolulu a 23 de Agosto de 1879 e João Fernandes, (de acordo com um relato então feito à revista Paradise of the Pacific, de Janeiro de 1922), ao desembarcar, trazia na mão o braguinha com que entretivera os demais companheiros na longa viagem. Os havaianos, quando ouviram João Fernandes tocar o pequeno instrumento, ficaram encantados e logo lhe deram o nome de «ukulele» - que significa «pulga saltadora» - figurando o modo peculiar como é tocado. Seguidamente, João Fernandes generalizou o seu uso em danças, festas e serenatas locais tendo depois formado um conjunto com Augusto Dias e José Luis Correia.
A par de Manuel Nunes - com oficina aberta logo a seguir à sua chegada e documentada desde 1884 -, Augusto Dias abre uma loja de fabrico e venda de «ukuleles» e o mesmo faz José do Espírito Santo, em 1888. Estes três primeiros violeiros passaram a utilizar as madeiras locais de kou e koa, com as quais construiram instrumentos de muito boa qualidade.
Cabo Verde
O cavaquinho existe também em Cabo Verde, num formato maior do que o do seu congénere português, com escala em ressalto até à boca e dezasseis trastos, encontrando-se também ligado às formas tradicionais da música local.
Relativamente à sua expansão geo-cultural, o cavaquinho parece constituir uma espécie fixada entre nós primordialmente no Minho, de onde irradiou para outras regiões - Coimbra, Lisboa, Algarve, Madeira, Açores, Cabo Verde e Brasil.
Desse modo, o cavaquinho ter-se-á difundido na Madeira por mão do emigrante minhoto. Longe do seu foco de origem e da sua tradição mais castiça, ele modifica a sua forma por influência e associação a outras espécies ali existentes, conservando o seu carácter popular mas adquirindo um novo status mais elevado na cidade do Funchal.
Será assim que ele regressa ao Continente, Algarve e Lisboa, em mãos de gentes dessas áreas que o conhecem ali apenas sob esse aspecto. O mesmo poderá ter acontecido com o Brasil; embora aí seja também de admitir o estabelecimento de relações directas entre a Madeira e esse país.
Lenie Berthe menciona ainda um outro tipo de instrumento ocorrente na Indonésia - o ukélélé ou kerontjong - "como acompanhante na orquestra que leva o mesmo nome de kerontjong", a par de uma viola grande (guitarre), um violoncelo ou contrabaixo e um alto (viole)". Esta orquestra corresponde a um género musical indonésio que surge nos começos do séc. XVI por contacto com a música portuguesa e influenciada, conforme as regiões, por estilos tradicionais como o gamelan.
*Este capítulo faz parte do livro "Instrumentos Musicais Populares Portugueses da Autoria de Ernesto Veiga de Oliveira, publicado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Faz parte também da capa do disco "cavaquinho" de Júlio Pereira, e autorizado pela mesma Fundação.
Fonte: http://www.juliopereira.pt/INSTRUMENTOS/Cavaquinho%20Historia.htm

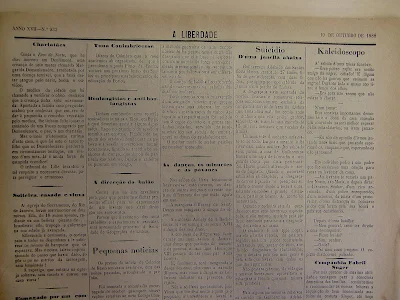

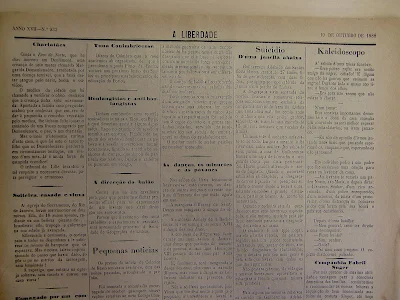

 As violas braguesas são construídas por uma indústria violeira outrora localizada em Guimarães e Braga, onde a sua existência surge documentada desde o séc. XVII. Actualmente, esta indústria apenas subsiste nos arredores de Braga e do Porto, daí abastecendo o resto do País. As madeiras mais usadas no fabrico da braguesa são o pinho de Flandres para o tampo da frente - em exemplares mais modestos utilizam-se o choupo ou a tília - e a nogueira para o fundo. Tampo e fundo da viola são normalmente feitos em duas pranchas de madeira unindo-se os veios simetricamente. As ilhargas são feitas em nogueira, o braço em plátano, amieiro, tília ou castanho. A escala é normalmente de pau-preto ou madeira escurecida, sendo ainda frequentes alguns cavaletes pintados de preto.
As violas braguesas são construídas por uma indústria violeira outrora localizada em Guimarães e Braga, onde a sua existência surge documentada desde o séc. XVII. Actualmente, esta indústria apenas subsiste nos arredores de Braga e do Porto, daí abastecendo o resto do País. As madeiras mais usadas no fabrico da braguesa são o pinho de Flandres para o tampo da frente - em exemplares mais modestos utilizam-se o choupo ou a tília - e a nogueira para o fundo. Tampo e fundo da viola são normalmente feitos em duas pranchas de madeira unindo-se os veios simetricamente. As ilhargas são feitas em nogueira, o braço em plátano, amieiro, tília ou castanho. A escala é normalmente de pau-preto ou madeira escurecida, sendo ainda frequentes alguns cavaletes pintados de preto. A sua afinação varia de acordo com a região onde é tocada e o tipo musical a que se destina. Assim sendo, o valor das notas não é absoluto, estabelecendo-se este de acordo com a afinação dos demais instrumentos com os quais a braguesa toca conjuntamente, e com as indicações específicas de cada músico ou autor. Manuel da Paixão Ribeiro, por exemplo, aponta a afinação (do agudo para o grave) mi-si-sol-ré-lá, também característica da viola toeira de Coimbra e da guitarra espanhola dos sécs. XVI-XVII. Michel Angelo Lambertini refere a de lá-mi-si-lá-ré. Os violeiros actuais afinam a braguesa como a guitarra - ré-lá-si-mi-lá -, suprimindo a sexta corda - afinação usada por Júlio Pereira baixando-lhes 1 tom - do-sol-lá-ré-sol. Para a requinta indicam ré-sol-si-fá#-lá. Acompanhando o cavaquinho, a viola braguesa afina como este na chamada "moda velha", seguindo um tipo de afinação diferente quando tocada a solo.
A sua afinação varia de acordo com a região onde é tocada e o tipo musical a que se destina. Assim sendo, o valor das notas não é absoluto, estabelecendo-se este de acordo com a afinação dos demais instrumentos com os quais a braguesa toca conjuntamente, e com as indicações específicas de cada músico ou autor. Manuel da Paixão Ribeiro, por exemplo, aponta a afinação (do agudo para o grave) mi-si-sol-ré-lá, também característica da viola toeira de Coimbra e da guitarra espanhola dos sécs. XVI-XVII. Michel Angelo Lambertini refere a de lá-mi-si-lá-ré. Os violeiros actuais afinam a braguesa como a guitarra - ré-lá-si-mi-lá -, suprimindo a sexta corda - afinação usada por Júlio Pereira baixando-lhes 1 tom - do-sol-lá-ré-sol. Para a requinta indicam ré-sol-si-fá#-lá. Acompanhando o cavaquinho, a viola braguesa afina como este na chamada "moda velha", seguindo um tipo de afinação diferente quando tocada a solo. O «Ravenscrag» chega a Honolulu a 23 de Agosto de 1879 e João Fernandes, (de acordo com um relato então feito à revista Paradise of the Pacific, de Janeiro de 1922), ao desembarcar, trazia na mão o braguinha com que entretivera os demais companheiros na longa viagem. Os havaianos, quando ouviram João Fernandes tocar o pequeno instrumento, ficaram encantados e logo lhe deram o nome de «ukulele» - que significa «pulga saltadora» - figurando o modo peculiar como é tocado. Seguidamente, João Fernandes generalizou o seu uso em danças, festas e serenatas locais tendo depois formado um conjunto com Augusto Dias e José Luis Correia.
O «Ravenscrag» chega a Honolulu a 23 de Agosto de 1879 e João Fernandes, (de acordo com um relato então feito à revista Paradise of the Pacific, de Janeiro de 1922), ao desembarcar, trazia na mão o braguinha com que entretivera os demais companheiros na longa viagem. Os havaianos, quando ouviram João Fernandes tocar o pequeno instrumento, ficaram encantados e logo lhe deram o nome de «ukulele» - que significa «pulga saltadora» - figurando o modo peculiar como é tocado. Seguidamente, João Fernandes generalizou o seu uso em danças, festas e serenatas locais tendo depois formado um conjunto com Augusto Dias e José Luis Correia. No decorrer do séc.XX o bandolim foi inserido na formação orquestral por Mahler (7ª e 8ª Sinfonias e A Canção da Terra), Schönberg (Serenata Op.24 e Variações Orquestrais Op.31), Webern (Cinco Peças Orquestrais), Henze (König Hirsch) e Stravinsky (Agor).
No decorrer do séc.XX o bandolim foi inserido na formação orquestral por Mahler (7ª e 8ª Sinfonias e A Canção da Terra), Schönberg (Serenata Op.24 e Variações Orquestrais Op.31), Webern (Cinco Peças Orquestrais), Henze (König Hirsch) e Stravinsky (Agor).